(Segunda Parte)
Na modesta escala
nacional, e até municipal, também tivemos o nosso Céline ou o nosso Henry
Miller na pessoa de José Carlos Oliveira (Diário
selvagem: o Brasil na mira de um escritor
atrevido e inconformista, e O homem
na varanda do Antonio’s: crônicas da boemia carioca nos agitados anos 60/70.
Organizado Jason Tércio, 2004 e 2005). Estamos longe, bem entendido, de Henri
Murger, num livro que, como declara o organizador, “comporta dois níveis de leitura: é a perambulação de um homem, desde a
juventude à maturidade, pelos bares, restaurantes, boates e festas mais
interessantes da Zona Sul do Rio de Janeiro, envolvendo-se em situações
alegres, dramáticas, poéticas, patéticas. É também a história da vida boêmia
num período de grande efervescência cultural no país, especificamente o
cotidiano da boemia artística e intelectual, narrado pelo seu mais qualificado
porta-voz, José Carlos (Carlinhos) Oliveira”.
O “Diário selvagem” situa-se, ao mesmo tempo, na literatura maldita,
na incoercível tendência para a coprologia desafiadora, nos ressentimentos
pessoais e no profundo sentimento de malogro existencial: ele vivia o contraste
pungente entre o que poderia ter sido e o que efetivamente era, entre as
compensações da popularidade fácil e a obscura convicção da própria
efemeridade. Literariamente, o organizador situa-o na numerosa família dos
rebeldes sem causa: “O resultado tem o
sabor de um coquetel feito com o erotismo escancarado de Henry Miller, a
marginalidade transcendente de Bukowski, a náusea existencial de Sartre, a
indignação moral de Lima Barreto, o dilema religioso de Dostoievski e o
memorialismo mudado de Proust”.
Façamos a parte dos
excessos retóricos e dos paralelos simplistas, para nada dizer dos respectivos
impactos na grande literatura, resta que seu projeto ou as suas veleidades
sempre foram maiores que as realizações. Seja como for, diz ainda Jason Tércio, “sua estirpe é a dos artistas outsiders,
marginais talentosos porém autodestrutivos, independentemente de época e da
avaliação estética de suas obras — François Villon, Allan Poe, Artaud,
Modigliani, Van Gogh, Byron, Oscar Wilde, Fagundes Varela, Lima Barreto, Jean
Genet, Jack Kerouac, Jim Morrison, Janis Joplin, Basquiat, Torquato Neto, Brian
Jones, Jimi Hendrix, Cazuza, Kurt Cobain... É o arquétipo da verdadeira
transgressão, que mistura vida e arte, num processo não raro trágico que, no
caso de Carlinhos, teve elementos de comédia”.
Ele mesmo se classificava
como “surrealista por temperamento, anarquista por indisciplina de berço,
boêmio por amor à vagabundagem, agregado à elite pensante por acaso”, família
espiritual que contesta os códigos aceitos pela prática sardônica de outros
códigos, não menos convencionais e arbitrários. É a transgressão como atitude
e, por isso mesmo, nada transgressora, buscando o aplauso dos que a aceitam,
não como literatura, mas como transgressão. No “Diário selvagem”, é mais do que perceptível a pulsão
autodestrutiva, “punindo-se” por estar ocupando um lugar que obscuramente sabia
não lhe pertencer: “Posso escrever um
romance autobiográfico de 500 páginas, começando sempre assim, capítulo por
capítulo: ‘Ontem dormi tarde, bebi muito’. E por que não fazê-lo? Ao longo das
páginas talvez se esclareça a origem dessa destruição, esse namoro com a morte
que é, literalmente, o meu pão de cada dia. A 50 metros da minha dose de uísque
alguém dá um tiro na cabeça; o meu suicídio é lento e relutante. Venho da
classe mais pobre, da miséria, passando por uma breve classe média solidamente
agarrada às suas mesquinhas esperanças, erguida ao nível da risonha demência
que encontramos descrita em novelas baratas”.
Esse “romance
autobiográfico” ele de fato o escreveu (sendo, como é, autobiográfica toda a
sua literatura) e intitula-se “Um novo
animal na floresta” (1981). O autor fez de si mesmo, ao longo dos anos,
observei àquela altura, o protótipo do herói tenebroso e romântico, perdido no
álcool e nas fronteiras da loucura, fascinante pela existência boêmia,
desafiador intemerato de todas as convenções burguesas (que adoram ser
desafiadas), irresistível amante de todas as mulheres, inclusive estrelas de
renome internacional e que atravessa os dias, em particular as “noites intermináveis”, uma de suas
expressões favoritas, como o misterioso paladino de não se sabe que virtudes
redimidoras. É o amigo íntimo dos marginais e desordeiros, cortejado,
entretanto, pelos pilares da sociedade e por importantes órgãos do jornalismo e
também a eterna promessa de romancista jamais realizada, distraído, por
enquanto, nas suas rememorações de memoráveis bebedeiras, algo constrangido na
inutilidade do seu papel e desejando, por isso mesmo, participar de forma
heróica (aspiração tão burguesa quanto antiburguesa), no que se identificavam,
sem percebê-lo, os irmãos inimigos da subversão e da repressão, história
trágica vivida, não na ficção, mas na realidade, pela juventude brasileira dos
anos 60.
É possível ver na
existência efêmera dos bares da moda qualquer coisa como o emblema da vida
sempre insatisfeita dos boêmios: “Não é
fácil determinar a razão pela qual um grupo de pessoas se desloca de um bar
para outro. (...) Em 1950 todos se reuniam no Vermelhinho e no 13 andar da ABI.
Pouco tempo depois foram para o Vilarinho, algumas quadras além. Mais alguns
anos, e eis todos eles no Alcazar, já em Copacabana. O declínio do Alcazar
coincidiu com o apogeu da varanda do Hotel Miramar. Foi só então que
descobrimos Ipanema, com o Veloso perto da casa de Rubem Braga e o Zeppelim
perto da casa de todo mundo. Simultaneamente surgiram no Leblon o Real Astoria
e o Maracujina. (...) Inexplicavelmente, o Antonio’s entra em decadência e sua
maravilhosa clientela se refugia no Nino e no Mário. A turma da pesada pede
abrigo ao Calil e ao Degrau, que por sua vez acabaram com o breve êxito do
Álvaro’s. Tudo isso parece obedecer a um estranho fatalismo que ainda nos
obrigará a ir beber chope em Santos, no princípio da noite...”.
Sabe-se que os cafés
literários são instituições congênitas com o aparecimento e desenvolvimento dos
grandes centros de cultura, muitas vezes exercendo importante papel histórico:
é neles que se preparou boa parte da Revolução Francesa, assim como os de Greenwich Village concentraram por um
momento a vida intelectual e artística de Nova York. A julgar pelo que escreve
José Carlos Oliveira, os do Rio tiveram uma função antes dispersiva e
hedonística. Não há prova mais constrangedora de desclassificação social do que
ser visto em um bar que saiu da moda, assim como nada se compara à vaidade de
estar entre os primeiros dos novos endereços.
Lírico
e indignado. Reflexivo e provocador. Por esses e outros motivos José Carlos
(Carlinhos) Oliveira quando morreu, há mais de 40 anos, deixou um vácuo que
ainda não foi preenchido.
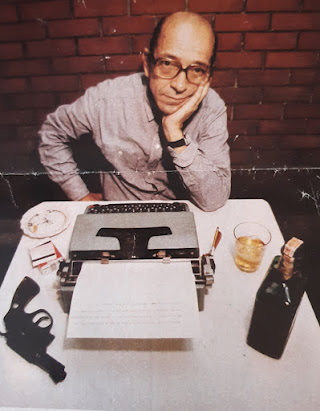
Comentários
Postar um comentário